O Theatro Municipal de São Paulo estreia nos próximos dias uma montagem da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, na qual atuo como dramaturgista, dentro de uma equipe que conta com Cibele Forjaz na encenação, Ailton Krenak na concepção geral, Simone Mina e Denilson Baniwa na cenografia e figurinos e muitas outras pessoas – sobretudo muitas mulheres – engajadas numa leitura decolonial da ópera. Antes mesmo dos ensaios gerais, uma matéria publicada no jornal Folha de S. Folha (“Montagem de 'O Guarani' com indígenas inflama debate sobre colonialismo”, Folha de S. Paulo, 6 de maio 2023) trouxe depoimentos de algumas pessoas do mundo da ópera, com comentários sobre as ideias que norteiam nossa montagem. É como mostrar o argumento de um filme ainda não estreado e pedir que críticos o comentem.
A matéria, já em seu título, “Montagem de ‘O Guarani’ com indígenas inflama debate sobre colonialismo", vai contra o próprio consenso internacional desde o estatuto de Roma de 1998 de que colonialismo é um crime. Apresentar o colonialismo como objeto passível de debate equivale a colocar em discussão a validade do fascismo. De resto, acredito que há uma percepção limitadora e reacionária prévia sobre a produção e uma visão de mundo lírico que parece não reconhecer que esse mundo está em transformação. Transformação que requer de nós, ao menos, coragem.
No próximo ano celebra-se o centenário da morte de Giacomo Puccini. Com ele, Puccini, teria morrido – sustenta uma historiografia passadista – o próprio gênero lírico. No entanto, como bem observa Mladen Dolar em seu livro “A Segunda Morte da Ópera”, em co-autoria com Slavoj Žižek: “O assombroso não é a persistência, no melhor estilo zumbi, da enorme instituição operística após o seu falecimento. Ela não apenas se mantém viva, mas continua crescendo continuamente”. A vida de um gênero que nasce com a função do maravilhamento só pode ser dar com novas camadas de encantamento e potência.
Ao longo da história, diversas querelas movimentaram o universo criativo da ópera – o que é mais importante, o teatro ou a música? Prima la musica? Dopo la parola? Ou vice-versa? – e diversos reformistas propuseram formas distintas de lidar com os paradoxos da ópera. Paradoxos não somente ligados ao feitio de novas óperas, mas também à maneira como o gênero repercute a vida social e política do mundo. Basta lembrarmos, por exemplo, do episódio bem conhecido da Querela dos Bufões, no qual uma ópera italiana acendeu desejos de revolução na França, ou a menos conhecida La Muette de Portici de Daniel Auber que, em 1830, levantou a revolução belga. É das fricções entre apocalípticos e integrados, para fazer coro com Eco, que se produz esta arte. Que bom! Na era dos encenadores, esta na qual vivemos, as possibilidades são múltiplas. Podemos pensar na ópera a partir de releituras “zeffirellianas”, podemos buscar interpretações filológicas, podemos repensar a estrutura do gênero (como ousadamente propõe Romeo Castellucci), podemos dialogar com nosso tempo ou simplesmente ignorar o fato de que vivemos no presente. Tudo isso é possível. Mas é fundamental que sejamos honestos com a própria história da arte lírica.
Na era dos encenadores, esta na qual vivemos, as possibilidades são múltiplas. Podemos pensar na ópera a partir de releituras “zeffirellianas”, podemos buscar interpretações filológicas, podemos repensar a estrutura do gênero, podemos dialogar com nosso tempo ou simplesmente ignorar o fato de que vivemos no presente. Tudo isso é possível
A ópera foi, até o século XX, um gênero extremamente maleável. Os cantores não somente usavam muitas vezes suas próprias roupas como figurino, como trocavam suas árias pelas chamadas “arie di baule”. Quem, no nosso tempo, aceitaria uma montagem da Lucia di Lammermoor sem a famosa Regnava nel Silenzio? Pois o próprio Donizetti aceitou, quando a ópera foi estreada no King’s Theater, e a soprano decidiu por não a interpretar, mesmo com o compositor presente. Em relação aos balés, essa prática é ainda mais comum. As Grands Opéras francesas incluíam muito mais números de ballet do que as óperas representadas nos demais países europeus. Assim, era mais do que frequente que alguns números fossem eliminados por não atenderem ao gosto do público fora da França. O termo “o gosto do público” se torna quase uma convenção nas centenas de prefácios de libretos nos quais os poetas se justificavam não somente por suas criações, mas também por suas adaptações em remontagens, prática comum desde o século XVII. O conceito de uma versão Urtext é uma ideia introduzida no século XX, inibindo qualquer alteração no “texto sagrado” deixado pelo compositor ou libretista. É um consenso na musicologia internacional contemporânea que essa é uma ideia datada, que pouco ou nada tem a ver com a prática histórica do gênero.
Voltando ao século XXI, momento de virada tanto na ideia de uma hegemonia cultural branca quanto na ideia decadente de antropoceno, a ópera se levanta para o debate. Na semana passada, a Revista CONCERTO publicou uma matéria sobre um aprofundado debate promovido pela Ópera de Zurique sobre temas como racismo, preconceito e apropriação cultural no repertório lírico. A decolonialidade e a ópera também serão temas de uma das mesas da importante Tosc@ - 5th Transnational Opera Studies Conference, que reunirá os maiores pesquisadores do gênero em Lisboa no próximo mês de julho. Enxergar o grande repertório com novas lentes, dando espaço para outros olhares, questionamentos e provocações, é fazer ecoar a própria origem do gênero, o maravilhamento.
Enxergar o grande repertório com novas lentes, dando espaço para outros olhares, questionamentos e provocações, é fazer ecoar a própria origem do gênero, o maravilhamento
Sabemos que a história da ópera está fundamentalmente ligada ao colonialismo europeu, foram os exotismos enxergados em populações colonizadas ou simplesmente não europeias que alimentaram o imaginário literário e sonoro da ópera por ao menos dois séculos. A própria construção de teatros de ópera fez parte de um grande projeto colonial, como bem diz Ruth Bereson: “aonde quer que tenha viajado o colonialismo europeu, ele deixou um teatro de ópera” [R. Bereson, The Operatic State: Cultural Policy and the Opera House, New York, Routledge, 2002]. Se nossos territórios receberam o gênero lírico como parte indissociável dos processos de colonização, de imigrações e produções identitárias, como podemos lidar com a ópera nos tempos atuais? Colocando-nos à frente do debate sobre ópera e decolonidade, fazendo uso da gigantesca produção intelectual do Brasil? Ou reproduzindo estéticas de grandes montagens operísticas do passado, registradas em DVD? Muitas montagens de ópera no Brasil têm se proposto como espaço de provocação e reflexão, basta relembrar aqui a Aída de Bia Lessa (Theatro Municipal de São Paulo, 2022) ou o Rapto do serralho de Jorge Takla (Theatro São Pedro, 2023), os Capuletti e Montecchi de Antônio Araújo (Theatro São Pedro, 2022), ou ainda o Peter Grimes de Pedro Salazar (Festival Amazonas de Ópera, 2022). Isso sem mencionar a impressionante onda de novas composições que têm chacoalhado o cenário brasileiro, como a double bill a partir de peças de Plinio Marcos compostas por Elodie Bouny e Leonardo Martinelli para o Theatro Municipal, o Café de Felipe Senna em diálogo como libreto de Mário de Andrade adaptado por Sérgio Carvalho (Theatro Municipal de São Paulo, 2021), as novas óperas do Atelier de Composição Lírica do Theatro São Pedro de São Paulo e a ópera coletiva Viramundo, composta como resultado do notável Ateliê de Criação: Dramaturgia e Processos Criativos (Palácio das Artes de Belo Horizonte, 2021).
O Guarani, de Carlos Gomes, foi programado na temporada deste 2023 com uma premissa decolonial. Para isso, o Theatro Municipal de São Paulo convidou, antes de mais nada, Ailton Krenak, um dos maiores pensadores do Brasil e liderança indígena, para trazer novos olhares sobre este totem da cultura brasileira. Considerar que Gomes não reflete os ideais nacionalistas que o indianismo romântico promove, inicialmente no romance de José de Alencar e depois na adaptação para libreto de Salvini e D’Ormeville, é tão ingênuo quanto pensar que “Se vuol ballare, signor contino” é apenas uma ária jocosa. Chamar de “levante identitário” somente propostas de questionamento da identidade hegemônica omite a principal função da ideologia nacionalista: forjar uma identidade nacional. Assim, tal “levante identitário” não remontaria na realidade ao século XIX? O indianismo romântico não seria um instrumento de fábrica da identidade brasileira?
Se esta trama se consolida a partir de um sistema de oposições, entre bom selvagem (o catequizável) e o mal selvagem (o insubmisso, que merece morrer), e entre civilização e natureza (algo mais atual que isso?), era imperativo para nossa equipe que tais oposições fossem repensadas, escancaradas ou desfeitas. O trabalho se deu de forma profunda, cada ponto delicado da trama foi tratado com extremo cuidado.
O trabalho se deu de forma profunda, cada ponto delicado da trama foi tratado com extremo cuidado
De partida, Ailton Krenak e outro membro do comitê curatorial, Lívio Tragtenberg, sugeriram a presença constante em cena de indígenas guaranis do Jaraguá. Num primeiro momento, pensamos em fazer referência à tradição dos chamados entremezes ou entreatos, que surge com o gênero e persiste no Brasil com a inserção, durante os intervalos de uma ópera, de pequenas cenas ou mesmo de modinhas cantadas. Como bem lembrou a musicóloga Rosana Orsini Brescia, uma das maiores especialistas em ópera brasileira do século XVIII e XIX, o exemplo da célebre Augusta Candiani, febre no Rio de Janeiro dos anos 1840, que cantou modinhas no intervalo de uma das óperas do Teatro São Pedro de Alcântara. Num segundo momento, a presença musical e física do coletivo guarani se mostrou para a equipe liderada por Cibele Forjaz uma oportunidade dramatúrgica e poética: dar a Peri uma família. A família que no romance de Alencar surge em momentos de extrema poesia e que encontrou eco na observação do próprio David Vera Popygua Ju de que não existe um guarani sozinho: o coletivo é a base do povo Guarani. David é o duplo de Peri, recurso muito utilizado no teatro e na ópera contemporâneos, e que dialoga com nossa certeza de que seria importante que o guarani fosse personificado por um guarani.
Assim como não é um acaso a escolha de uma trama indianista por Carlos Gomes, não pode ser visto como um “acidente” a peripécia disparadora do drama: o assassinato de uma indígena aymoré. Ela, que é apenas citada no libreto, passa a fazer parte da trama no corpo da atriz Zahy Tentehar, como uma memória de Moema, como a própria terra cobiçada e ainda como lembrança do personagem de Isabel, a irmã mestiça de Cecilia no romance. Voltar ao romance foi fundamental neste processo, e é muitas vezes na própria origem do libreto (no caso do meu trabalho) que encontro chaves importantes. É ali que Peri nos revela que se tornou cristão para salvar Ceci mas que “morrerá selvagem como Ararê”. Murta. O trabalho fundamental de Eduardo Viveiros de Castro “O Mármore e a Murta: sobre a inconstância da alma selvagem”, se tornou assim, trazido por Krenak, uma das linhas diretrizes para pensarmos a dramaturgia e as visualidades – justamente divididas entre Denilson Baniwa e Simone Mina – para este projeto. Um pensador brasileiro inquietando no mundo mármore da ópera. Era isso que eu sonhava.
Carlos Gomes certamente não imaginaria que temas que perpassam sua ópera fossem ser tão atuais em 2023. Os chamados “aventureiros” (que nós chamamos de “exploradores”) liderados por Gonzales estão em busca de prata e ouro. Para eles, a terra brasilis não é senão uma fonte inesgotável de riquezas a serem extraídas, custe o que custar. Minérios, destruição, morte, povos originários, mercúrio, morte... soa familiar? São estes mesmos exploradores que tentam defender Gonzales, seu líder, de uma tentativa de estupro a Cecilia, a única personagem mulher nesta ópera. Uma única mulher igualmente, aliás, faz parte do grupo convidado pelo jornalista da Folha para comentar nossa proposta para esta montagem, Maria Alice Volpe. Curiosamente, foi ela a única comentadora que mostrou abertura e curiosidade pelo trabalho que estamos desenvolvendo.
Carlos Gomes certamente não imaginaria que temas que perpassam sua ópera fossem ser tão atuais em 2023
Artistas de diversas gerações vêm se empenhando no Brasil em produções que buscam dialogar com nossas inquietações e com o mundo, que acreditam no gênero para além da experiência museológica. Que lutam por uma ópera para todas e todos, que toque almas e corações, que ressignifique a experiência humana, pelo menos por algumas horas. Carlos Gomes, este Fitzcarraldo às avessas, andando pelas ruas de Milão, escrevendo seu curriculum para entregar a personalidades influentes do La Scala para conseguir estrear sua ópera, pedindo dinheiro ao irmão para levantar seu Guarani, me comove. Poder dialogar com sua ópera, trazê-la para perto de nós depois de tantos anos é um privilégio, assim como é um privilégio para o público poder reencontrar Peri e Ceci, ouvir estas melodias líricas que a brisa do Brasil beija e balança.

É preciso estar logado para comentar. Clique aqui para fazer seu login gratuito.
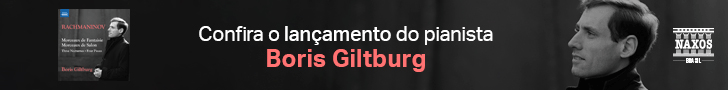

![Detalhe da partitura de 'A menina que virou chuva' [Reprodução] Detalhe da partitura de 'A menina que virou chuva' [Reprodução]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-menina_bonafe.jpg?itok=RMCaRqkx)
![A Orquestra Sinfônica da USP [Divulgação/Marcos Santos] A Orquestra Sinfônica da USP [Divulgação/Marcos Santos]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-OsUSP_Foto-Marcos-Santos_U0Y8324_0.jpg?itok=1V81gf8Y)
![O maestro Felipe Prazeres [Divulgação] O maestro Felipe Prazeres [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/l-felipe_prazeres_1.jpg?itok=DlZGU9RT)
![Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação] Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/W-FILARMONICA%20DE%20MINAS.JPG.jpg.jpeg?itok=l4BvWNbx)
![A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação] A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/WhatsApp%20Image%202026-03-11%20at%2015.50.15.jpeg?itok=sh0gEWh5)

![A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti] A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-osesp_gruppen_iris_zanetti.jpg?itok=JRgoPJU3)


![Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação] Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-ensemble_k_simone_site1.jpg?itok=fm8zKcaK)





Comentários
Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião da Revista CONCERTO.