Entrevista com o compositor Felipe Lara
Aos 40 anos, o paulista Felipe Lara pode ser considerado não apenas um dos principais compositores brasileiros de sua geração, como um dos mais requisitados de qualquer faixa etária. Não é exagero: Lara recebeu encomendas de grupos cultuados, como Quarteto Arditti e Ensemble InterContemporain, e agora trabalha em uma obra para as filarmônicas de Helsinque e Los Angeles. Logo depois, engata outra para o Grossman Ensemble, grupo em residência na Universidade de Chicago.
Radicado nos EUA desde 1999 (quando o então guitarrista de rock apaixonado por jazz e MPB foi estudar no Berklee College of Music), leciona no Peabody Institute, em Baltimore, e tem, neste mês, uma obra estreada pela Osesp: Ó, a partir de texto de Nuno Ramos. E, em outubro, entra em cartaz A fera na selva, filme de Eliane Giardini, Paulo Betti e Lauro Escorel livremente baseado em novela homônima de Henry James, com trilha sonora de Lara.
![Felipe Lara [Divulgação / Rolex - Hugo Glendinning]](/sites/default/files/inline-images/RMP7M_F012.jpg)
Neste mês, a Osesp estreia Ó, de sua autoria, sobre texto de Nuno Ramos, com formação bastante heterodoxa. Conte a história dessa obra.
Ó é uma peça longa, de 32 minutos, e requer um conjunto não ortodoxo: oito narradores/cantores amplificados, dois coros antífonos (direita e esquerda), uma orquestra também não completamente convencional, com duas guitarras elétricas, e sons pré-gravados. A encomenda surgiu, acredite se quiser, quando Arthur Nestrovski me ofereceu uma encomenda de dez minutos para coro a capella! Nuno Ramos tinha acabado de receber o Prêmio Portugal Telecom de Literatura, e Arthur, por algum motivo, pensou em mim. Mas, ao ler o livro, não consegui imaginar uma obra de dez minutos, muito menos apenas para coro a capella. Aos poucos cheguei a essa formação, que faz homenagem à Sinfonia de Luciano Berio não apenas no uso das vozes, mas também nas referências mais ou menos sutis que faço à grande obra do mestre italiano.
E como se deu o trabalho com o texto de Nuno Ramos?
Ó de Nuno é em si extremamente complexo, no melhor sentido da palavra. Eu queria capturar o espírito do trabalho dele. É inquietante, líquido e cheio de movimento; o livro não descansa e não pode ser encaixotado ou definido facilmente; nesse sentido, Ó de Nuno Ramos é muito música. Decidi usar narradores para declamar seleções do texto e o resto do conjunto para reagir e trazer à tona sons, imagens, cheiros e movimento da brilhante linguagem de Nuno. Os sons pré-gravados são como déjà vus de acordes dos coros, gravações do Nuno lendo partes do livro e gravações que eu fiz com crianças de escola pública junto com ativistas/artistas liderados por Roberto Fachini e Cinthia Crelier, do Espaço Cultural Ventos Uivantes, na Mata Atlântica, em São Francisco Xavier. Passamos um dia na mata escutando os sons, discutindo as diferentes zonas da APA (área de proteção ambiental). A vivência envolveu discussões sobre ecologia, sustentabilidade, acústica, composição, interpretação e improvisação, sempre tendo as zonas de proteção ambiental da APA São Francisco Xavier como foco. No dia seguinte, regi uma improvisação coletiva com cerca de 25 crianças tocando objetos encontrados e materiais recicláveis. Foi uma linda vivência que entrou em Ó como metáfora de sons eletrônicos, quando são todos sons da mata. Ou seja, eu quis produzir uma obra que não era completamente vocal, sinfônica, coral, operática, concreta, mas transitava na fronteira de tudo isso; assim como Ó de Nuno. Escrevi a peça pouco a pouco, começando e acuando entre 2010 e 2014.
Ainda sobre a peça da Osesp: seu catálogo contém predominantemente obras instrumentais. Compor para vozes constitui, para você, um desafio especial?
É verdade, meu catálogo é predominantemente instrumental; mas, na realidade, a voz é o instrumento mais antigo de todos; o mais essencial. Eu trato ela como qualquer instrumento; estudo o repertório, as idiossincrasias, depois tento esquecer tudo e soltar a mão.
Além da composição, você tem se dedicado ao ensino. O que isso representa para você?
Eu absolutamente amo dar aulas de composição, principalmente individuais, às quais me dedico hoje; tenho 15 alunos em meu estúdio no Peabody. Cada um deles escreve em um estilo, vem de diferentes países ou regiões e tem um histórico ou uma relação com a composição. Meu papel é ajudá-los a levar a música que querem compor aonde quiserem levá-la e, simultaneamente, mostrar-lhes um repertório e variadas técnicas composicionais. Uma das grandes vantagens de dar aula num grande departamento como o do Peabody é que as oportunidades de performance para os alunos são numerosas. Sendo assim, ensino todos meus alunos com base nas obras que eles estão produzindo... É de projeto em projeto que as linguagens se desenvolvem, arriscando sempre, aprendendo com os erros e capitalizando nos acertos. É um privilégio discutir composição com alunos jovens e brilhantes; aprendo muito com eles, e poucas coisas me dão mais prazer que vê-los mergulhar no desconhecido e decolar musicalmente.
Você mora há anos nos EUA. Sente-se completamente adaptado aí?
Morei em Boston de 1999 a 2005, depois me mudei para Nova York, que considero minha casa. Na verdade, moro em Jersey City, do outro lado do rio de Manhattan, no estado de Nova Jersey. Ou seja, tenho 40 anos e vivo aqui há vinte. Não sou completamente adaptado aos EUA, mas a Nova York, sim. Os lugares em que vivi nesse país são bastante cosmopolitas e contemplam uma diversidade enorme: cultural, musical, intelectual e até culinária. Como cresci em São Paulo, esses aspectos não apenas são naturais para mim, como são necessários e muito bem-vindos.
Como você vê a cena musical de hoje na cidade?
Um aspecto que acho muito positivo da cena de Nova York é o fato de haver várias comunidades estilisticamente distintas, tanto na música popular quanto na música de concerto de vanguarda, sem falar do jazz e de outros estilos de música improvisada; contudo, há muita interação e interesse mútuo entre as comunidades. Outro aspecto positivo é que, assim como qualquer grande cidade, ela tem uma ou duas orquestras, mas, além dessas robustas instituições, existem diversos ensembles e grupos alternativos especializados em música nova, muitas vezes compostos por músicos extremamente jovens e virtuosos, que os próprios músicos administram, fazem encomendas, escrevem editais e tocam um repertório extremamente novo e variado. Por exemplo, o International Contemporary Ensemble (ICE) começou há quinze anos com dinheiro dos bolsos dos fundadores e hoje realiza cerca de 160 concertos por ano, com eventos de todas as dimensões, os estilos e os contextos. O que mais falta no Brasil são pequenos e médios grupos para que os compositores possam criar e o público possa se envolver com música contemporânea de todas as vertentes. Interesse é o que não falta no Brasil. Já levei grandes grupos, como Quarteto Arditti, ICE, Quarteto Mivos, Duo Diorama, com programas radicais e variados, e o público sempre foi à loucura. O problema é apoio institucional para oferecer esses eventos de maneira gratuita ou barata, pois não é música de cunho comercial e jamais deve ser elitista.
Teria algum conselho profissional para os jovens compositores brasileiros?
Meu primeiro conselho seria: para ser compositor, não basta gostar de música ou de compor; você tem que compor, sempre. É necessário focar na única coisa que importa para o compositor, que é a constante e o contínuo do trabalho em si. O segundo conselho é sempre compor para uma performance, seja ela uma encomenda, um recital, seja a turnê de um colega, para você mesmo tocar, para uma gravação ou um grupo que você vai contratar, enfim. O ciclo de aprendizagem de uma obra só se fecha depois da colaboração com o intérprete. Procure estudar com grandes compositores e professores e, mais importante, seja parte e se envolva com a comunidade de músicos, artistas e amantes da boa música: ninguém lhe deve nada, e compor apenas em casa, ou no departamento da universidade, não é suficiente. Às vezes, conheço compositores que querem estudar comigo e se dizem apaixonados por música contemporânea, mas quando pergunto quais são os compositores vivos que eles admiram, não sabem; com tantas bibliotecas, acervos, e inclusive os YouTubes, Spotifys e Soundclouds da vida, não existe desculpa para não conhecer nada; isso é preguiça, e para preguiça ninguém tem tempo. Nunca escreva música para agradar ao público, pois essa ideia do público não existe. Já tive apresentações nos mais diversos lugares, e seria de uma arrogância enorme supor que a plateia em todos esses lugares é a mesma ou que todos em um concerto interpretam a música com igual sensibilidade. Não seja um “troll” ou um babaca que só fala mal da música dos colegas por inveja ou gosto distinto. Se você não gosta de uma peça, escute de novo e veja se não tem realmente nada ali que você possa aprender; se de fato não houver, vá escutar ou escrever outra coisa. É um mundo pequeno onde podemos coabitar, aprender com os outros, compartilhar obras e resistir a tanta coisa ruim propondo algo mais digno, como a música, que tem o poder de transformar as pessoas. É uma profissão quase impossível, mas o “quase” pode virar possível com muito esforço e integridade.
Na próxima temporada, você tem uma obra encomendada em conjunto pelas filarmônicas de Los Angeles e de Helsinque. As solistas são Claire Chase, que tem tocado bastante sua música, e Esperanza Spalding, muito conhecida no cenário de jazz. Como será essa empreitada?
Pois é, essa é a aventura em que estou mergulhando no momento. Um concerto duplo para a flautista Claire Chase, a cantora/contrabaixista Esperanza Spalding e grande orquestra. É uma encomenda das filarmônicas de Helsinque e de Los Angeles e um par de outras orquestras que ainda não posso anunciar. Quem vai reger ambas as orquestras é a maestrina finlandesa Susanna Mälkki. Ou seja, um time dos sonhos; realmente, a pressão agora está em meus ombros. Eu trabalho com Claire desde 2006, conheço Esperanza há mais ou menos o mesmo tempo; lá por 2014 propus escrever um duo para as duas, que toparam. Mas, papo vai, papo vem, o projeto cresceu e foi tomando forma, quando a Susanna propôs uma obra realçando as duas com orquestra. Minha ideia inicial foi tratar e fundir as duas solistas e seus timbres como um solista composto, uma espécie de hidra que canta, toca contrabaixo, flautas em dó, flauta glissando e flauta contrabaixo, em diferentes combinações e momentos. Contudo, a ideia principal foi reinterpretar o gênero do concerto duplo, propondo uma obra que explora aspectos de música oral, improvisada, música de concerto, diferentes formas da canção em diferentes línguas. O desafio que me coloquei foi negociar várias vertentes musicais que me formaram, de música popular, rock, jazz e música de concerto, sob o olhar/a escuta do presente, além do êxtase de desafiar incríveis colaboradoras com situações musicais que nenhum de nós envolvidos jamais habitamos.
Obrigado pela entrevista.
AGENDA
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo/Coro da Osesp/solistas
Neil Thomson – regente
Dias 12, 13 e 14, Sala São Paulo
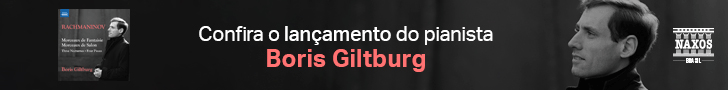

![Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação] Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/W-FILARMONICA%20DE%20MINAS.JPG.jpg.jpeg?itok=l4BvWNbx)
![A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação] A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/WhatsApp%20Image%202026-03-11%20at%2015.50.15.jpeg?itok=sh0gEWh5)

![Cena de 'Nosferatu', de Murnau, que abre a mostra [Divulgação] Cena de 'Nosferatu', de Murnau, que abre a mostra [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-nosferatu.jpg?itok=GQ74CYnx)
![A soprano coreana Hera Hyesang Park [Divulgação/Deutsche Grammophon] A soprano coreana Hera Hyesang Park [Divulgação/Deutsche Grammophon]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-soprano.jpg?itok=a09t_zkE)

![A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti] A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-osesp_gruppen_iris_zanetti.jpg?itok=JRgoPJU3)


![Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação] Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-ensemble_k_simone_site1.jpg?itok=fm8zKcaK)




