A noite começou com a subida de Graça Aranha ao palco.
“Para muitos de vós a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje, é uma aglomeração de horrores. Aquele Gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida se não são jogos da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do Passado.”
O discurso introduzia ao público presente ao Theatro Municipal de São Paulo naquele 13 de fevereiro de 1922 um esboço das ideias de um grupo de artistas que, reunidos em São Paulo, tinham como objetivo criar e modernizar a produção artística. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Emiliano Di Cavalcanti, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho. Na exposição que ocupou o saguão do teatro, ou nas leituras e concertos realizados no palco, uma proposta de uma arte nova. Proposta que, na música, ganhou corpo na obra de Heitor Villa-Lobos, vindo do Rio de Janeiro, que participou dos três festivais realizadas na semana, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro.
!["O homem amarelo", destaque da exposição da Semana de 22 [Reprodução]](/sites/default/files/inline-images/homem_amarelo.jpg)
“Parti com os meus melhores intérpretes para São Paulo. Demos três concertos, ou melhor, três festas de arte. No primeiro, o amigo Graça fez uma conferência violentíssima, derrubando quase por completo todo o passado artístico, só se salvando as imperecíveis colunas dos diversos templos de arte da Idade Média e, assim mesmo, porque eram gregas, romanas, persas, egípcias etc. Como deves imaginar, o público levantou-se indignado. Protestou, blasfemou, vomitou, gemeu e caiu silencioso. Quando chegou a vez da música, as piadas das galerias foram tão interessantes que quase tive a certeza de a minha obra atingir um ideal, tais foram as vaias que me cobriram de louro.”
O relato de Villa-Lobos a Arthur Iberê de Lemos foi escrito cerca de dois meses depois da realização da semana. Ele vinha do Rio de Janeiro, onde Mário de Andrade e Oswald de Andrade estiveram meses antes da realização da Semana. Também na capital viviam outros nomes-chave do que se chamaria mais tarde de grupo modernista. O diplomata Ronald de Carvalho, por exemplo, cuja importância como poeta foi tão grande quanto sua capacidade de articular encontros entre diferentes artistas e personalidades da época – sobre o tema, aliás, o estudo de Mirhiane Mendes de Abreu é excelente leitura.
E, claro, o próprio Graça Aranha, que seria responsável por introduzir Di Cavalcanti a Paulo Prado, ou seja, à elite paulistana que possibilitaria a um evento imaginado discretamente para uma pequena livraria ocupar o palco do Theatro Municipal de São Paulo. “Era uma elite que nem sempre entendia a proposta artística que o grupo que realizou a Semana defendia, é verdade. Mas que enxergava na ideia de modernidade nas artes um paralelo com o desejo da cidade de São Paulo de se afirmar como uma metrópole”, como lembra a pesquisadora Camila Fresca.
Mas voltemos à música e a Villa-Lobos. Para a cena musical brasileira, a Semana costuma ser o ponto de partida de uma história bastante contada. Em resumo, ali nascia a ideia de uma arte capaz de recriar uma identidade nacional, baseada no folclore, dando origem a uma música nacionalista, à qual já nos anos 1950 vai se opor a vanguarda cosmopolita, em uma briga estética que vai se diluir nos anos 1980, no início da pós-modernidade, chegando até nós como artefato histórico.
É um resumo eficiente e superficial.
![Cartaz da Semana de 22 [Reprodução]](/sites/default/files/inline-images/semana-de-22_0.jpg)
No dia 12 de fevereiro de 1922, na véspera do início da Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade publicou um artigo no Jornal do Commercio cujo tema era a música. “Carlos Gomes é horrível. Todos nós o sentimos desde pequeninos. Mas como se trata de uma glória da família, engolimos a cantarolice toda do Guarani e do Schiavo, inexpressiva, postiça, nefanda”, afirmou. “De êxito em êxito, o nosso homem conseguiu difamar profundamente o seu país, fazendo-o conhecido através dos Peris de maiô cor-de-cuia e vistoso espanador na cabeça a berrar forças indômitas em cenários terríveis.”
O Peri italiano de Carlos Gomes já não era Peri suficiente para representar a cultura brasileira, o texto de Oswald não deixa dúvida. Mas a ideia de identidade nacional por meio da arte é anterior à Semana. E, por aqueles que dela participaram, será articulada com mais cuidado e ênfase apenas depois de sua realização, seja com as viagens de Mário de Andrade, pela construção do discurso em torno da obra de Villa-Lobos ou com a publicação, por Oswald, do Manifesto Pau-Brasil e do Manifesto Antropofágico.
O que, então, de fato se ouviu de música naquelas noites de 1922?
Por conta do projeto Toda Semana: Música e Literatura na Semana de Arte Moderna, idealizado por Fresca, colaboradora da Revista CONCERTO, Flavia Toni, professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP e Claudia Toni, assessora especial da reitoria da universidade, é possível saber com detalhes (além, claro, de ouvir as obras, gravadas no ano passado e lançadas no projeto, que está disponível no site do Sesc Digital de forma gratuita até o final do mês e nos principais de serviços de streaming).
![Graça Aranha [Reprodução]](/sites/default/files/inline-images/graca_aranha.jpg)
Na noite do dia 13, após o discurso “A emoção estética da arte moderna”, de Graça Aranha, a programação musical começou com música francesa. De Erik Satie, Edriophtalma; e, de Poulenc, Valse en ut. E, depois de leituras de poemas, a primeira parte se encerrou com a Sonata nº 2 e Trio nº 2, de Villa-Lobos, que dominou a segunda parte, com Valsa mística, Rodante, A fiandeira e as Danças características africanas.
O Jornal A Gazeta, que nos dias anteriores à Semana havia sido campo de batalha entre modernistas e articulistas que prometiam “crítica severa contra a iniciativa”, silenciou sobre os eventos do primeiro festival. O Estado de S. Paulo, por sua vez, reproduziu no dia 14 de fevereiro a conferência de Graça Aranha, que não comentou (“as suas palavras nos dispensam de mais pormenores”). E em seguida abordou a parte musical da noite, que revelou um artista “de notável envergadura e excepcional temperamento”. Era Villa-Lobos. Suas peças provocaram “profundo impacto”, também pela qualidade dos intérpretes: entre eles, Ernani Braga, Paulina D’Ambrosio e Alfredo Gomes.
“Foi a noitada das surpresas. Povo estava muito inquieto, mas não houve vaias. O Teatro completamente cheio. Os ânimos estavam fermentando; o ambiente eletrizante, pois que não sabia como nos enfrentar”, lembrou anos depois Anita Malfatti. E completou: “Era o prenúncio da tempestade que arrebentaria na segunda noite.”
![Guiomar Novaes em 1935 [Reorodução/Instituto Piano Brasileiro]](/sites/default/files/inline-images/Guiomar_Novaes.jpg)
Os principais jornais do dia 15 de fevereiro, data do segundo festival, traziam anúncios daquele que se prenunciava o destaque da noite: a participação da pianista Guiomar Novais. Àquela altura, aos 28 anos, já era uma estrela internacional consagrada pelo público e pela crítica norte-americana – antes de partir para o Brasil, a fim de tocar no Municipal, ela acabara de realizar mais uma bem-sucedida turnê pelos Estados Unidos, tocando em Nova York, Boston e Chicago, sendo considerada a “mais inspirada entre as pianistas” pelo crítico Henry Finck do jornal New York Times.
Mas além dos anúncios, o Correio Paulistano trazia uma carta da pianista.
“Exmos. srs. membros do ‘comitê’ patrocinador da Semana de Arte Moderna – Saudações. Em virtude do caráter bastante exclusivista e intolerante que assumiu a primeira festa de arte moderna, realizada na noite de 13 do corrente no Theatro Municipal, em relação às demais escolas de música, das quais sou intérprete e admiradora, não posso deixar de aqui declarar o meu desacordo com esse modo de pensar. Senti-me sinceramente contristada com a pública exibição de peças satíricas alusivas à música de Chopin. Admiro e respeito todas as grandes manifestações de arte, independente das escolas a que elas se filiem, e foi de acordo com esse meu modo de pensar que acedendo ao convite que me foi feito tomarei parte num dos festivais de Arte Moderna. Com toda a consideração, Guiomar Novaes.”
Pianista foi à imprensa, onde afirmou estar “contristada com a pública exibição de peças satíricas alusivas à música de Chopin”
A pianista sentiu-se particularmente incomodada pela peça de Satie, paródia da Marcha fúnebre da Sonata op. 35 de Chopin (de quem era grande intérprete). Luiz Armando Bagolin, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP e curador da mostra Era uma vez o Modernismo, em cartaz no Centro Cultural Fiesp, diz que a semana foi, de certa forma, o início de uma guerra de narrativas. Ele relembra que muitas das obras apresentadas ainda não significavam um rompimento de fato com o passado ou a adesão à vanguarda mais radical: o que os organizadores pretendiam, acima de tudo, era criar uma dicotomia, ao menos no discurso, entre o antigo e o novo. Nessa leitura, o texto de Guiomar Novaes era um presente. A pianista, sem saber, mordera a isca.
Segundo a lembrança de Oswald de Andrade, em depoimento de 1954, a noite começou com ele próprio, Menotti del Picchia, Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Ronald de Carvalho, Henri Mugnier e Agenor Barbosa "alinhados” sobre o palco. Menotti foi o primeiro a falar. Passadistas são idiotas, provocou. E continuou:
“Neste palco, há meses, quem tinha uma casaca para se sentar numa poltrona, ou 20$000 para se encarapitar nas torrinhas, assistiu a essa coisa inaudita: quarto ato de Mefistófeles de Boito. Fausto e Mefisto vão ao Olimpo à procura de Dona Helena, uma senhora bonita e desonesta, que fugiu de Menalau, seu predestinado marido, e fez Cassandra dizer profecias, Ulisses inventar o Cavalo de Tróia, Enéas fugir com o velho Anquises para o Lácio. Aos requebros da batuta de Marinuzzi apareceram em cena os Deuses da Grécia! Quem eram? Júpiter, Marte, Mercúrio, Vulcano, Plutão, Netuno... Claro que, no palco, eram comparsas, gigantes latagões italianos, de pernas felpudas, gestos de pantomima... Pois bem, essa ridícula comparsaria gaiata lembrou-me todo o Parnasianismo, com seus heróis de papelão, com seus deuses da fancaria...”
Pobre Boito, que décadas antes, em 1863, lideraria o grupo dos scapigliatti ao eleger como inimiga uma arte definida como provinciana e conservadora, pregando a fuga das garras do “velho e do cretino”, celebrado em um altar “sujo como parede de bordel”. Eram termos que caberiam bem nas conferências dos modernos. Mas, compreende-se: assim como a poesia parnasiana, a ópera era um dos alvos prediletos dos modernistas.
![Oswald de Andrade [Reprodução]](/sites/default/files/inline-images/oswald.jpg)
Pelo relato de Oswald de Andrade, a plateia ouviu Menotti del Picchia em silêncio, assim como fizera no festival anterior com a conferência de Graça Aranha. Talvez por conta de algumas pistas dadas pelo artista em seu discurso. Ao longo de sua fala, Menotti distancia-se da noção de futurismo proposta pelo italiano Filippo Tommaso Marinetti, cujo manifesto futurista de 1909 propõe que toda a arte do passado deveria ser descartada e sugere a destruição de museus e bibliotecas. E, mais do que isso, chega a falar nos modernistas como neoclássicos.
“Há um modernismo de primeira geração na Europa, que dura até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Mas há uma segunda geração mais afável, que depois da Primeira Guerra está preocupada em reconstruir e não em destruir. Eles pensam em um retorno à ordem. O que os artistas da Semana fazem é pegar o futurismo radical do começo do século e sua proposta de experimentação de linguagem, filtrar o caráter ideológico e político, amenizar as propostas mais radicais e apresentar como nosso modernismo. Em uma carta de 1923, por exemplo, Manuel Bandeira vai falar sobre como não é necessário negar correntes do final do século XIX. Todos bebemos nisso, ele diz ao Mário, antes de encontrar um caminho próprio”, explica Bagolin.
Seja como for, o silêncio não duraria muito tempo. Oswald lembra que, após sua fala, Menotti pediu a ele que tomasse a palavra, e o escritor começou a ler trechos de Os Condenados, “que nada tinham de excessivamente moderno ou revolucionário”.
“Mas a pouca gente interessava o que eu ia ler e apresentar. O que interessava era patear. Apenas Menotti se sentou e eu me levantei e o teatro estrugiu numa vaia irracional e infrene. Antes mesmo d’eu pronunciar uma só palavra. Esperei de pé, calmo, sorrindo como pude, que o barulho serenasse. Depois de alguns minutos, isso se deu. Abri a boca então. Ia começar a ler, mas nova pateada se elevou, imensa, proibitiva. Nova e calma espera, novo apaziguamento. Então, pude começar. Devia ter lido baixo e comovido. O que me interessava era representar o meu papel, acabar depressa, sair, se possível. No fim, quando me sentei e me sucedeu Mário de Andrade, a vaia estrondou de novo. Mário, com aquela santidade que às vezes o marcava, gritou: ‘Assim não recito mais’. Houve grossas risadas.”
Na lembrança de Oswald, faltaram as leituras feitas por Ribeiro Couto, Luis Aranha, Sergio Milliet e outros. E o motivo do maior escândalo da noite: Ronald de Carvalho lendo o poema Os sapos, de Manuel Bandeira, sátira à poesia parnasiana.
“Enfunando os papos,
Saem da penumbra,
Aos pulos, os sapos.
A luz os deslumbra.
Em ronco que aterra,
Berra o sapo-boi:
- “Meu pai foi à guerra!”
- “Não foi!” - “Foi!” - “Não foi!”.
O sapo-tanoeiro,
Parnasiano aguado,
Diz: - “Meu cancioneiro
É bem martelado.
Vede como primo
Em comer os hiatos!
Que arte! E nunca rimo
Os termos cognatos.
O meu verso é bom
Frumento sem joio.
Faço rimas com
Consoantes de apoio.
Vai por cinquenta anos
Que lhes dei a norma:
Reduzi sem danos
A fôrmas a forma.
Clame a saparia
Em críticas céticas:
Não há mais poesia,
Mas há artes poéticas...”
Urra o sapo-boi:
- “Meu pai foi rei!”- “Foi!”
- “Não foi!” - “Foi!” - “Não foi!”.
Brada em um assomo
O sapo-tanoeiro:
- A grande arte é como
Lavor de joalheiro.
Ou bem de estatuário.
Tudo quanto é belo,
Tudo quanto é vário,
Canta no martelo".
Outros, sapos-pipas
(Um mal em si cabe),
Falam pelas tripas,
- “Sei!” - “Não sabe!” - “Sabe!”.
Longe dessa grita,
Lá onde mais densa
A noite infinita
Veste a sombra imensa;
Lá, fugido ao mundo,
Sem glória, sem fé,
No perau profundo
E solitário, é
Que soluças tu,
Transido de frio,
Sapo-cururu
Da beira do rio...”
Foi só então que Guiomar Novaes subiu ao palco. Tocou Debussy (La soirée dans Grenade e Minstrels), Villa-Lobos (O ginete do Pierrozinho) e Émile Robert Blanchet (Au Jardin du Vieux Sérail). A plateia aplaudia a artista e pedia a ela que tocasse obras de Chopin para resgatar a honra do compositor, manchada no dia anterior por Satie.
“A notável pianista patrícia provocou entusiasmo, sendo chamada ao proscênio mais de cinco vezes, executando, então, extra-programa o mimoso trecho Arlequim, de Vallion, apesar dos insistentes pedidos do público para que tocasse um trecho de Chopin”, anotou no Correio Paulistano no dia 16.
Na segunda parte, foram apresentadas canções de Villa-Lobos a partir de poemas de Ronald de Carvalho (Festim pagão, Solidão e A cascavel), além de seu Quarteto nº 3. Lucilia Villa-Lobos e o sr. Nascimento Filho se encarregaram das canções. Na imprensa, não há muitos detalhes sobre como transcorreu a apresentação. Só O Estado de S. Paulo anota que as reações de parte do público eram deselegantes com as famílias ali presentes, mas que o mesmo valia para a reação do sr. Nascimento Filho...
Villa-Lobos subiu ao palco de chinelos. Estava, lembrou Oswald anos depois, com uma calo arruinado
A terceira noite transcorreu sem grandes sobressaltos. Foi composta apenas por apresentação musical, toda ela dedicada a obras de Villa-Lobos.
A lista de obras foi, na ordem, a seguinte: Trio nº 3, Lune d’octobre, Voilà la vie, Jouis sans retard, Sonata Fantasia nº 2, Uma camponesa cantadeira, Um berço encantado, Bailado infernal e Quarteto Simbólico.
Villa-Lobos subiu ao palco de casaca e chinelos. Mas o que parecia um gesto de desafio às convenções, descobriu-se com o tempo, tinha razões mais prosaicas. Foi apenas fruto da necessidade, uma vez que o compositor, como lembraria Oswald anos depois, estava com um “calo arruinado”.
O Estado de S. Paulo celebrou mais uma vez a obra do compositor, afirmando que novas execuções das peças no futuro com certeza tornariam a compreensão de suas ideias mais aprofundadas. Já no Correio Paulistano, o colunista Helios considerava a Semana um sucesso, falando dos os cães raivosos que haviam se insurgido durante as apresentações. “Cães só produzem mordeduras. Galinhas, ovos... Em vez de pensamentos, ladridos. Em lugar de ideias, omeletes... Foram esses que deram por morta a causa gloriosa da Reforma. É ridículo. Causa pena.”
Helios era o pseudônimo de Menotti del Picchia, para quem ressaltar a reação negativa à Semana era tão importante quanto elencar suas conquistas. “Mário de Andrade percebia a importância da narrativa entre o passado e o presente, o futuro”, lembra Bagolin. “Em uma carta do período, escreveu que a reação negativa foi o que de melhor poderia ter acontecido para os artistas envolvidos com a semana.”
Para pesquisadores, correto seria falar em diversas semanas de 22
O centenário da Semana de 22, acredita Camila Fresca, pode permitir um novo olhar para a música de Villa-Lobos. As suas obras apresentadas durante os festivais, dos anos 1910, anteriores à imagem que o próprio compositor construiria nas décadas seguintes, mostram, segundo ela, um lado importante do autor.
“Para quem vê à distância, Villa-Lobos tem a figura de fanfarrão, é um homem predestinado, cujo sucesso estava escrito nas estrelas, que criava suas obras sem esforço, que acabava uma partitura e nunca mais voltava a ela, que não tinha cuidado ao escrever”, diz. “Mas as pesquisas recentes em suas partituras, muitas delas dos anos 1910, têm mudado essa imagem. Não é verdade que ele escrevia uma obra e esquecia, partia para outra, como se página escrita fosse página virada. Ele escreve, arrisca, tenta, volta atrás, revisa obras antigas. É um compositor cioso, que reflete sobre o que faz. As pessoas começam a entender isso.”
A atenção à produção anterior à semana também aparece no livro Modernismo em Preto e Branco, de Rafael Cardoso, que a Companhia das Letras lançou em janeiro.
“Quem examina os textos e as obras com isenção não pode deixar de se maravilhar com a riqueza do que se fez nos anos 1900 e 1910. Meu livro tenta fazer isso para as artes gráficas e as revistas ilustradas, mas o mesmo princípio se aplica à fotografia, ao cinema, à música e até mesmo a áreas muito estudadas como a arquitetura, as artes plásticas e a literatura. Precisamos redescobrir os autores e artistas dessa época, que costuma ser descontada como "pré-modernismo", um termo enganoso e historicista. O melhor exercício é cotejar as obras consagradas com aquelas que foram esquecidas. Em muitos casos, a comparação surpreende”, diz o pesquisador.
![Mário de Andrade [Reprodução]](/sites/default/files/inline-images/mario_de_andrade.jpg)
Autores de Semana de 22: Antes do começo, depois do fim, recém-lançado pela editora Estação Brasil, os historiadores José de Nicola e Lucas de Nicola chamam atenção para o fato de que, cem anos depois, um olhar para 1922 sugere que não houve apenas uma semana.
Isso se dá, primeiro, pelas diferentes visões que cada um dos artistas envolvidos tinha a respeito do que significaria modernizar a arte, o que fica particularmente claro nos anos seguintes, marcados por caminhos distintos e, em alguns casos, desentendimentos.
Na exposição em cartaz no Centro Cultural Fiesp, por exemplo, há cartas que revelam divergências entre Tarsila do Amaral e Mário de Andrade ou então parte da correspondência entre o escritor e o poeta Manuel Bandeira, na qual discutem a relação com a arte do passado: Bandeira, a certa altura, vai falar sobre como a ideia de ruptura não esconde o fato de que todos aqueles artistas eram o resultado de múltiplas influências – a tal arte do passado entre elas.
Mas é entre Mário de Andrade e Oswald de Andrade que a diferença será particularmente notável, como aponta a professora Toni. “A partir de 1928, Mário de Andrade começa a realizar suas viagens pelo Brasil. Há da parte dele um cuidado na maneira como se dá o contato com as manifestações regionais. Mário tem um cuidado antropológico, começa um trabalho com ares de etnomusicologia. Já Oswald, a partir do Manifesto Antropofágico, em especial, não tem essa preocupação.”
Rafael Cardoso vai além. “Os diversos agentes modernistas tinham pontos de vista divergentes e raramente concordavam entre si. A Antropofagia, por exemplo, se opôs à Semana de Arte Moderna, tachada de falso modernismo pela Revista de Antropofagia. É um disparate tomar a Antropofagia como um movimento em continuidade com o ideário de 1922. Sem falar de uma gama de outros artistas e autores, considerados modernistas em sua época, e que foram apagados do cânone”, diz.
Para ele, “não existe um modernismo, único e unívoco”. “Há muitos modernismos, uma pluralidade de modernismos. Se queremos entender o legado deles para a cultura brasileira, o primeiro passo é compreender as diferenças entre os diversos momentos e movimentos. A ideia hegemônica do modernismo é nociva, inclusive para avaliarmos a difusão das ideias modernistas. O resultado é que ficamos rodando em círculos em torno da questão da identidade nacional, sem avançar em outras frentes mais importantes.”
Como definir, então, a importância da Semana de 22 em 2022. “A semana une pela primeira vez um grupo de artistas em torno da reflexão sobre uma nova arte, sobre a pulsão de criar, dando forma a algo que está no ar”, diz Camila Fresca.
Não foi um evento sem contradições, durante sua realização ou no caminho seguido por seus artistas. E portanto o olhar para ela precisa estar sempre em movimento – para um evento que assumiu ares de marco na cultura do país, afinal, não podia ser diferente.
Leia também
Entrevista "Rio e São Paulo se complementam na chegada da modernidade" diz Manoel Corrêa do Lago
Colunistas O que de fato aconteceu na Semana de Arte Moderna?, por João Marcos Coelho
Revista CONCERTO Centenário da Semana de Arte Moderna será celebrado por orquestras de todo o país
Acervo CONCERTO A vida de Heitor Villa-Lobos
![Cartaz da Semana de Arte Moderna de 1922 [Reprodução]](/sites/default/files/inline-images/SEMANA_CARTAZ.jpg)
É preciso estar logado para comentar. Clique aqui para fazer seu login gratuito.
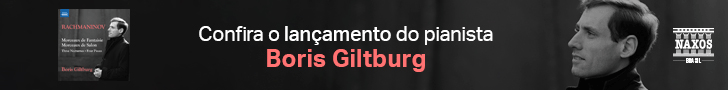

![Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação] Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/W-FILARMONICA%20DE%20MINAS.JPG.jpg.jpeg?itok=l4BvWNbx)
![A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação] A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/WhatsApp%20Image%202026-03-11%20at%2015.50.15.jpeg?itok=sh0gEWh5)

![Cena de 'Nosferatu', de Murnau, que abre a mostra [Divulgação] Cena de 'Nosferatu', de Murnau, que abre a mostra [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-nosferatu.jpg?itok=GQ74CYnx)
![A soprano coreana Hera Hyesang Park [Divulgação/Deutsche Grammophon] A soprano coreana Hera Hyesang Park [Divulgação/Deutsche Grammophon]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-soprano.jpg?itok=a09t_zkE)

![A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti] A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-osesp_gruppen_iris_zanetti.jpg?itok=JRgoPJU3)


![Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação] Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-ensemble_k_simone_site1.jpg?itok=fm8zKcaK)





Comentários
Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião da Revista CONCERTO.