Academia do Theatro São Pedro encena dobradinha com Uma rodada de bridge, de Barber, e O labirinto, de Menotti, óperas que refletem sobre as ilusões do sonho americano
O termo “american dream” (sonho americano) é atribuído ao historiador James Truslow Adams, que o utilizou em um ensaio de 1931, The Epic of America: “O sonho não diz respeito meramente aos motores dos carros ou a bons salários, mas a uma ordem social em que cada indivíduo poderá atingir a estatura plena daquilo que é capaz e ser reconhecido pelos demais pelo que é, independentemente de sua circunstância fortuita de nascimento”. Duas décadas mais tarde, porém, o foco já parecia estar mais nos bons salários, necessários para a compra das casas de subúrbio com garagens para abrigar os carros e seus motores. Em período de segregação racial, a circunstância de nascimento podia ser fortuita, mas não banal. E a chegada de Harry Truman à presidência, em 1948, definiu as bases da paranoia que moldaria a Guerra Fria, e abriu espaço para a caça às bruxas do senador Joseph McCarthy e seu Comitê de Investigação das Atividades Antiamericanas.
A arte americana dialogou com o período, e não foi diferente no caso da ópera. Em 1950, Giancarlo Menotti estreou O Cônsul, crítica à noção da América como uma terra de oportunidades para todos que nela chegam. De 1956, Candide, a ópera/musical/opereta de Leonard Bernstein, com sua crítica fantástica ao otimismo, falava também das contradições do país – a autora do texto, Lillian Hellmann, foi chamada anos antes a depor no comitê de McCarthy, assim como seu marido, o escritor Dashiell Hammett, que acabou preso por seis meses. Mas os dois autores também abordariam o esfacelamento do sonho americano escondido atrás das cercas brancas das casas de subúrbio e suas famílias nucleares. Bernstein escreveu em 1952 Trouble in Tahiti, sobre um casal às voltas com uma rotina insuportável. Samuel Barber, em A hand of bridge, de 1959, narra, em apenas nove minutos, o mundo interior de casais que falam sobre o que sentem sob a superfície de uma vida idealizada. E Menotti abordaria o tema em 1963, com The labyrinth, reflexão sobre a vida que se coloca à frente de jovens recém-casados.
Essas últimas duas obras subiram juntas ao palco do Theatro São Pedro ao longo da última semana em espetáculo da Academia de Ópera e da orquestra jovem do teatro. A direção musical ficou a cargo de André dos Santos e a direção cênica, de João Malatian (Uma rodada de bridge havia sido encenada pelo São Pedro durante a pandemia, em versão filmada dirigida por Caetano Vilela). Pela temática, funcionam muito bem juntas e, além disso, a ópera de Barber tem texto de Menotti, que assina também o libreto de O labirinto.
Como Bernstein em Trouble in Tahiti, Barber utiliza o jazz como um dos fios condutores de uma partitura interessante na forma como separa e une as linhas de cada um dos protagonistas, o que se perdeu um pouco na récita de sábado, quando nem sempre houve equilíbrio entre fosso e vozes. A primeira é Sally (Laleska Terzetti), que relembra o chapéu de penas de pavão que viu mais cedo em uma vitrine – ela quer comprá-lo, apesar de ter gostado também do vermelho e do bege. Em seguida, vem Bill (Wilian Manoel), o advogado, marido de Sally, que imagina se a mulher desconfia de seu caso com Cymbaline – e, angústia maior, pergunta-se com que outro homem a amante estaria naquele momento.
Geraldine (Anastasia Liàntziris), por sua vez, se questiona sobre os motivos pelos quais Bill, com quem costumava trançar pernas debaixo da mesa, parece tão distraído – certamente não é por estar pensando em Sally, sua “rainha descartada”, ou nela. E quem então a ama? O último a falar é David (Julián Lisnichuk), marido de Geraldine, que sonha em ser rico como o patrão, fala de seus desejos sexuais, mas conclui que nunca terá nada o que de fato quer, pois está fadado a passar todas as noites jogando bridge com os vizinhos.
Do frenesi consumista de Sally à dúvida existencial de David, os pensamentos representam tanto angústias individuais como a fuga possível da realidade que vivem. Mas no final das contas estão todos ali, presos a mais uma noite de jogo, e é nisso que está a tragédia, por assim dizer. Nesse sentido, a opção de Malatian de retirar da mesa os personagens durante suas breves árias dilui um pouco a ideia do espaço claustrofóbico que Barber e Menotti criam.
Já em O labirinto, um jovem casal (Robert Willian e Débora Neves) está em um hotel onde vai passar a noite de núpcias. Mas eles perdem a chave do quarto, não sabem em qual deles estão hospedados e não conseguem encontrar a recepção. Enquanto procuram, se deparam com figuras como o mensageiro que sempre os escapa (o ator Erikson Almeida), uma espiã (Laleska Terzetti), um astronauta (Ernesto Borghi), um velho misterioso (Éder Rodrigues ), uma gerente executiva (Isabelle Dumalakas) e funcionários do hotel (Ariel Bernardi e Gianlucca Braghin) – há até mesmo uma cena de ópera tradicional (com Cláudio Marques), que o noivo observa quando resolve olhar pela fechadura de um dos quartos.
Menotti criou a ópera para a televisão, sem a pretensão de levá-la ao palco – a ideia era aproveitar os efeitos especiais que apenas o formato poderia oferecer (apenas em 2020 ela foi levada em um teatro, no Ventura College). O vídeo da estreia em 1963 pode ser visto aqui. Para o nosso olhar, os efeitos visuais, tão importantes então, podem parecer prosaicos. Mas há um diferencial trazido pela linguagem da televisão – os quadros fechados tornam os diferentes personagens e situações ainda mais absurdos e desconectados entre si, reforçando o caráter fragmentado e surreal da narrativa. Mas, na transição para o palco, as opções de Malatian e a cenografia de Giorgia Massetani funcionam muito bem, pelo labirinto estilizado que eles constroem e do qual os personagens entram e saem de maneira orgânica, aparecendo e sumindo de maneira às vezes quase imperceptível. É um espetáculo fluente, que segue a alegoria de perto, sem tentar explicá-la de modo didático – o distanciamento entre os protagonistas e o cansaço físico e mental são evidentes, assim como a simbologia da morte. E, musicalmente, soou muito bem o equilíbrio entre orquestra e cantores, com a regência de Santos caracterizando a chegada de cada personagem, sem perder a visão do todo.
Esse é um espetáculo feito por cantores em formação; não são novatos, mas estão ainda em um processo. A récita de sábado chamou atenção para a necessidade de maior refinamento na construção das frases ou no cuidado com a pronúncia do texto, questões naturalmente interligadas; assim como será importante um trabalho que dê a eles maior segurança no gestual e na desenvoltura cênica. É algo que virá com o tempo. Houve sem dúvida destaques: a Geraldine de Anastasia Liàntziris; o Noivo de Robert Willian, a Noiva de Débora Neves e a Executiva de Isabelle Dumalakas. Mas não é exagero imaginar todos ali desenvolvendo, em um futuro não tão distante, carreiras em montagens dos nossos principais teatros.
Como o mercado brasileira de ópera será capaz de incorporar esses e tantos outros jovens artistas é uma outra história, que talvez não caiba no escopo desse texto. É, porém, uma questão premente, que toca em pontos como a busca de novos formatos, o investimento em novas obras e o papel que os teatros públicos podem ter nesse processo, o que sem dúvida exigiria uma política pública para a ópera em conjunto com uma política cultural mais ampla atenta de fato à descentralização. É um assunto a ser abordado. E logo. Pois, enquanto ações de extrema importância, como as da academia do São Pedro, se proliferam e consolidam, precisamos reconhecer que o elefante não vai deixar tão cedo a sala.
![Cena de 'O labirinto' [Divulgação]](/sites/default/files/inline-images/w-labirinto.jpeg)
É preciso estar logado para comentar. Clique aqui para fazer seu login gratuito.
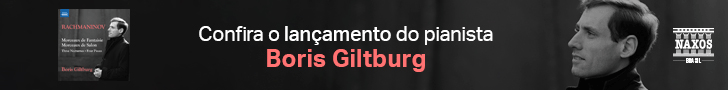

![Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação] Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/W-FILARMONICA%20DE%20MINAS.JPG.jpg.jpeg?itok=l4BvWNbx)
![A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação] A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/WhatsApp%20Image%202026-03-11%20at%2015.50.15.jpeg?itok=sh0gEWh5)

![Cena de 'Nosferatu', de Murnau, que abre a mostra [Divulgação] Cena de 'Nosferatu', de Murnau, que abre a mostra [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-nosferatu.jpg?itok=GQ74CYnx)
![A soprano coreana Hera Hyesang Park [Divulgação/Deutsche Grammophon] A soprano coreana Hera Hyesang Park [Divulgação/Deutsche Grammophon]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-soprano.jpg?itok=a09t_zkE)

![A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti] A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-osesp_gruppen_iris_zanetti.jpg?itok=JRgoPJU3)


![Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação] Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-ensemble_k_simone_site1.jpg?itok=fm8zKcaK)






Comentários
Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião da Revista CONCERTO.