Para quem gosta de efemérides, é um prato cheio. Ou melhor, duplo: as coincidências de datas de nascimento e morte, como constatei por acaso um dia desses. Ambos viveram 76 anos. O maestro russo Sergei Koussevitzky nasceu em 26 de julho de 1874 em Vyshny Volochyok; o compositor austríaco Arnold Schoenberg nasceu em Viena em 13 de setembro de 1874. O primeiro morreu em 4 de junho de 1951, em Boston; o segundo em 13 de julho de 1951, em Los Angeles. Há mais uma forte afinidade, a que mais nos interessa, entre dois dos maiores músicos da primeira metade do século 20: a paixão pela música contemporânea, viva.
Koussevitzky é razoavelmente conhecido no Brasil porque acolheu o maestro Eleazar de Carvalho em 1946, uma história que o brasileiro repetiu muitas vezes em entrevistas. A história é contada assim em seu site oficial: “Informado que Sergei Koussevitzky era diretor de uma escola de regentes e estava ministrando cursos naquele momento em Tanglewood, decidiu procurá-lo. No entanto, os cursos já estavam em andamento e o maestro não recebia ninguém. ‘A minha vontade era tanta que usei de um estratagema. Afirmei que trazia uma mensagem do presidente do Brasil e que esta deveria ser entregue ao mestre. Fui recebido. – E a mensagem?, perguntou Koussevitzky. – É verbal, senhor. E apesar da reação de surpresa, continuei. – Peço-lhe 5 minutos à frente da orquestra. Se julgar que não tenho qualquer possibilidade, voltarei e viverei da caça e da pesca no meu país’. Aceito, Eleazar teve em Koussevitzky o mestre que marcou sua vida e sua carreira”.
Eleazar foi assistente do russo ao lado de outro jovem, Leonard Bernstein, e herdou de Koussevitzky por 16 anos o curso de regência em Tanglewood após a morte do maestro em 1951. Deu o nome de Sergei a seu filho e criou o Festival de Campos do Jordão à imagem e semelhança do de Tanglewood, concebido por Koussevitzky.
Voltemos a Koussevitzky. Graças a um segundo casamento, ele tornou-se um homem rico. E uma das primeiras coisas que fez foi criar em 1909 uma editora, as Editions Russes de Musique, assim mesmo, em francês (as elites russas só falavam francês; o populacho é que falava russo). Editou obras de Scriabin (que morreu em 1915), Prokofiev e Stravinsky, entre muitos outros. Já nos Estados Unidos, a partir de 1924, comandou até 1949 a Sinfônica de Boston, transformando-a na mais reluzente sinfônica do planeta – e isso num momento em que a música clássica ocupava os horários nobres do rádio e da televisão.
Suas encomendas a grandes compositores ficaram famosas. Como a do Concerto para orquestra a um Bela Bartók morando num apartamento pequeno em Nova York e já doente da leucemia que o mataria em 1945. Britten, Messiaen e Martinu foram outros compositores que receberam encomendas do maestro, contrabaixista de formação. Outra célebre é a orquestração que encomendou em 1922 a Ravel, quando ainda morava em Paris, dos Quadros de uma exposição”, de Mussorgsky. Uma longa matéria recente do jornal The New York Times recenseia 338 encomendas, além de ter regido a estreia mundial de 146 obras.
Koussevitzky deu-se bem com a vanguarda bem comportada da música norte-americana. Cabeças mais radicais como Charles Ives, por exemplo, jamais fizeram ninho em seu reino em Boston. Mesmo beneficiando compositores mais conservadores, um deles, Virgil Thomson – que, por 14 anos, entre 1940 e 1954, dominou a crítica musical clássica nos EUA –, fazia sérias restrições ao capo de Boston. Aliás, uma leitura pra lá de divertida é a do livro Thomson – Music Chronicles 1940-1954, um catatau de 1.180 páginas. De vez em quando o consulto, e recolho pérolas como esta, intitulada The Koussevitzky Case. Ele a escreveu em 1947, quando o maestro russo tentou impedir na justiça uma nova biografia não tão lisonjeira quanto dois livros anteriores estilo “chapa branca”. Intitulado Koussevitzky, o livro foi proibido de circular, mas a editora já havia distribuído cópias para a imprensa especializada. O autor, Moses Smith, era crítico e jornalista. Fez o retrato de um ser humano de carne e osso, com imensas qualidades mas também com defeitos. Neste mesmo perfil de 1947, Thomson escreveu que “a sua posição única num mundo cheio de excelentes maestros, muitos deles dedicados à música contemporânea, deve-se ao fato de que tocou mais, lançou mais, publicou mais e pagou melhor do que qualquer outra pessoa viva”. Mas alfinetou: “A civilização seria apenas uma farsa se tivéssemos de aprender tudo que conhecemos sobre as vidas dos grandes homens por meio de agentes pagos”. É de Thomson, aliás, o mote de que, por pior ou mais capenga que seja uma crítica, ela ainda “é o maior antídoto contra a propaganda”. E completa: “É por isso que todos os grandes artistas abominam a crítica”.
Neste sentido, ninguém foi mais malhado do que Arnold Schoenberg desde que começou a aventurar-se pelo atonalismo e, em seguida, pela técnica de composição com os doze sons cromáticos da escala, a chamada música serial. A ponto de aconselhar àqueles que se aproximam dela: “Você deve ouvir minha música como escuta qualquer outra; esqueça as teorias, o método dodecafônico, as dissonâncias, etc., e, se possível, o nome do autor”.
A uma das maiores estrelas do mundo clássico àquela altura, o violinista Jascha Heifetz, que lhe disse que precisaria esperar que lhe nascesse um sexto dedo para conseguir tocar sua música, Schoenberg respondeu algo na linha “não tem problema; eu espero”.
Ele fez esta advertência em 1944, quando morava na mesma conhecida avenida Sunset Boulevard, em Los Angeles, onde também residia Igor Stravinsky. Ambos eram inimigos figadais, e jamais se falaram, mesmo morando na mesma avenida. Mas o dinheiro sempre fala mais alto. Eles participaram em 1943 da Suite Genesis, composição coletiva concebida por Nathanael Shilkret (1889-1982), filho de emigrados judeus austríacos, compositor, clarinetista, arranjador, maestro, produtor na RCA, depois diretor musical da MGM em Hollywood. Ele reuniu compositores exilados numa obra em favor do povo judeu perseguido. Assim, Shilkret imaginou contar musicalmente seis episódios do Gênesis. O texto bíblico é declamado por um recitante. Pensou num prelúdio orquestral, a cargo de Bela Bartók, então exilado em Nova York. Bartók até aceitou, mas a leucemia que o mataria em 1945 o impediu de terminar o trabalho. Shilkret resolveu compor ele mesmo o prelúdio. Convidou cinco compositores, todos morando em Los Angeles, para as demais partes: o polonês Alexandre Tansman, o francês Darius Milhaud, o italiano Mario Castelnuovo-Tedesco, o austríaco Ernst Toch e Stravinsky. O final seria um poslúdio de Schoenberg.
Todos aceitaram, inclusive Stravinsky e Schoenberg, inimigos cordiais mesmo no exílio. Mas Shilkret alterou a sequência, porque a música de Schoenberg seria um anticlímax inadequado para o final. Assim, Schoenberg ficou com o prelúdio e Stravinsky com o poslúdio. A obra estreou em 18 de novembro de 1945 no Wilshire Ebell Theater, em Los Angeles (a Segunda Guerra terminara em 2 de setembro). Um mês depois ela foi gravada.
Schoenberg e Stravinsky estavam na estreia, mas sentaram-se bem longe um do outro. Você pode ouvir a obra na íntegra aqui.
P.S.: o camaleão Stravinsky abjurou a música serial até a morte de Schoenberg, em 1951. E, em seus últimos vinte anos de vida, usou e abusou da técnica serial, então disseminada em todas as universidades norte-americanas. Mas está é outra história.
![O maestro Sergei Koussevitzky [Divulgação/Boston Symphony Orchestra]](/sites/default/files/inline-images/w-Serge-Koussevitzky.jpg)
É preciso estar logado para comentar. Clique aqui para fazer seu login gratuito.
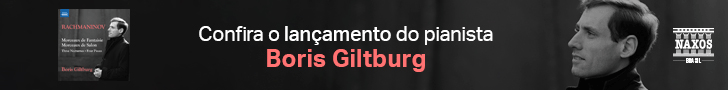

![Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação] Filarmônica de Minas Gerais [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/W-FILARMONICA%20DE%20MINAS.JPG.jpg.jpeg?itok=l4BvWNbx)
![A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação] A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/WhatsApp%20Image%202026-03-11%20at%2015.50.15.jpeg?itok=sh0gEWh5)

![Cena de 'Nosferatu', de Murnau, que abre a mostra [Divulgação] Cena de 'Nosferatu', de Murnau, que abre a mostra [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-nosferatu.jpg?itok=GQ74CYnx)
![A soprano coreana Hera Hyesang Park [Divulgação/Deutsche Grammophon] A soprano coreana Hera Hyesang Park [Divulgação/Deutsche Grammophon]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-soprano.jpg?itok=a09t_zkE)

![A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti] A Osesp dividida em três para apresentar 'Gruppen' [Divulgação/Íris Zanetti]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-osesp_gruppen_iris_zanetti.jpg?itok=JRgoPJU3)


![Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação] Simone Menezes e o Ensemble K [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-ensemble_k_simone_site1.jpg?itok=fm8zKcaK)





Comentários
Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não refletem a opinião da Revista CONCERTO.