Ainda hoje o público fica perturbado quando músicos rompem fronteiras e unem a música numa só prática
Os puristas que me perdoem, mas confesso que gostei da ideia de se traduzirem para o português os versos de “Ode à alegria” da Nona sinfonia de Beethoven nos concertos finais da temporada 2019 da Osesp, em dezembro passado. É outro o impacto, mais direto sobre o público, quando se cantam os emocionantes versos de Schiller escolhidos por Beethoven para difundir sua mensagem de confraternização, harmonia e diálogo no planeta.
Não sei se todos na plateia conheciam a mais famosa sinfonia de Beethoven. Possivelmente não. Quando penso nisso, me vem à cabeça um fato que aconteceu nos primórdios dos downloads, lá se vão, grosso modo, duas décadas: a BBC inglesa disponibilizou em seu portal as nove sinfonias de Beethoven para download gratuito por tempo determinado. Ao contabilizar o volume de downloads, pensava-se que as campeãs seriam a Eroica, a Quinta e a Nona. Erraram. As mais baixadas foram a primeira e a segunda sinfonias, as menos características das revoluções estéticas que Beethoven propôs a partir da terceira.
Ora, se mesmo o público inglês demonstrou solene desconhecimento do conjunto de obras orquestrais mais cultuado no planeta nos últimos dois séculos, o que dizer das plateias brasileiras?
Por aqui, a história se repete, de geração em geração. Criança, adolescente ou adulto, um dia a pessoa topa com uma obra-prima da música clássica, elogiadíssima por todos que se consideram especialistas. Gosta muito dela, mas tem medo de emitir opiniões, expressar com clareza o que lhe agrada (e o que lhe desagrada) em tal música. Pode ser o Cravo bem temperado de Bach, a citada Eroica de Beethoven ou a Sinfonia fantástica de Berlioz. Ou mesmo o Quarteto para o fim dos tempos de Messiaen. As perguntas pululam. Por que cravo, se as peças de Bach são tocadas ao piano moderno? Por que Eroica, em italiano, se Beethoven era alemão? Qual é o motivo de Berlioz ter chamado sua sinfonia de Fantástica? E por que o compositor francês dedicou seu quarteto praticamente ao apocalipse?
Em busca das respostas a essas perguntas, em geral o público se perde numa selva de informações – muitas delas desencontradas. Acessar o Google pode confundir ainda mais. Falta às pessoas, hoje, um arco histórico que lhes permita entender como a música foi se transformando, desde o século XVIII, com Bach; desde o XIX, com Beethoven e Berlioz; e chegou à Segunda Guerra Mundial, com o quarteto de Messiaen, que o compôs enquanto preso num campo de concentração.
![O Rio de Janeiro dos anos 1920, visto por Marc Ferrez [Reprodução]](/sites/default/files/inline-images/l-RIO_ANOS_20_MARC_FERREZ8.jpg)
E como foi que a música se dividiu de modo tão artificial – um tanto por causa da indústria cultural, que não começou no século XX, mas em meados do XIX? Ainda hoje o público fica perturbado quando músicos rompem fronteiras, tornam a unir a música numa só prática.
O concerto da Osesp de dezembro passado foi um desses momentos virtuosos e inovadores, em que a música de concerto de repente se prolonga harmoniosamente para outros gêneros, e vice-versa. Não foi, afinal, o que aconteceu quando imediatamente antes do movimento coral final da Nona as cordas opulentas da orquestra entoaram a canção-manifesto dos anos 1960 de Caetano Veloso Alegria, alegria? Ali, 99% do público lembrou-se dos versos de Caetano e embalou-se, na sequência, no movimento final da Nona, que também cantou a alegria da confraternização universal – uma utopia, é verdade, mas que jamais devemos deixar de perseguir. Dali em diante, a emoção só cresceu na Sala São Paulo, lotada.
Tudo isso me ocorreu porque, paralelamente a esse concerto, eu estava a meio caminho da leitura de Metrópole à beira-mar, divertidíssimo e enriquecedor passeio de Ruy Castro pelo Rio de Janeiro dos anos 1920. Sua visão inclusiva constrói um caleidoscópio cultural e social no qual inexistem barreiras estilísticas ou de gêneros.
Emergem, assim, as grandes figuras da música popular do período. Estão todas no livro, descritas em linguagem saborosa: Carmen Miranda, Francisco Alves, Mário Reis (grande Mário Reis), Orestes Barbosa (o autor do verso mais lindo da música brasileira, “Tu pisavas nos astros, distraída” da canção Chão de estrelas), Pixinguinha (mestre-fundador da música instrumental brasileira), Sinhô, Ismael Silva e o fabuloso Noel Rosa, entre tantos outros. Castro descreve o nascimento das favelas e a consolidação do carnaval carioca nos “loucos anos 1920” da metrópole.
No entanto – e aí reside talvez o maior mérito deste livro de leitura obrigatória –, ele também aborda, concedendo espaços semelhantes, os músicos ditos clássicos do período. Desde o maior deles, Villa-Lobos, o maior entre os grandes mediadores entre a alta e a baixa cultura. Frequentou as rodas de choro e as salas de concerto com igual desenvoltura. Compôs grandes obras sinfônicas, mas também as singelas Cirandas (singelas só na aparência). Elsie Houston está lá (com detalhes como os de que, quando vivia em Nova York, Rachmaninov e Prokofiev frequentavam seu apartamento e saqueavam sua geladeira periodicamente), assim como Bidu Sayão, Vera Janacópulos e o Instituto Nacional de Música. E também Roquette-Pinto, figura-chave da música e do cinema (Humberto Mauro fez, por encomenda dele, trezentos curtas sobre criadores brasileiros preciosíssimos).
Sem pompa nem circunstância, Ruy Castro constrói perfis entremeados com a história da Cidade Maravilhosa e mostra como músicos, escritores e poetas (Cecília Meireles, Lima Barreto, Manuel Bandeira, Murilo Mendes), pintores (Di Cavalcanti, Oswaldo Goeldi) e outros interagiram com os meios econômicos, sociais, políticos e culturais que os rodearam, transformando essa batalha a um só tempo pessoal e coletiva em processos criativos peculiares.
PARA LER
Metrópole à beira-mar – o Rio moderno dos anos 20, de Ruy Castro (Companhia das Letras)
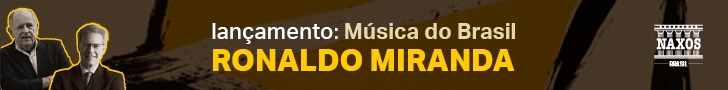


![O maestro Thomas Blunt com o Coro da Osesp [Divulgação/Laura Manfredini] O maestro Thomas Blunt com o Coro da Osesp [Divulgação/Laura Manfredini]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-2023_03_26_cor01_concerto_blunt_solistas_fotos_laura_manfredini_55_4fdba826b7%20%281%29.jpg?itok=9kOhF58A)

![Roberto Minczuk rege a Orquestra Sinfônica Municipal [Divulgação] Roberto Minczuk rege a Orquestra Sinfônica Municipal [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-sinfonica_municipal_0.jpg?itok=lGuyDn3J)
![O violoncelista Kim Bak Dinitzen [Divulgação/Osesp] O violoncelista Kim Bak Dinitzen [Divulgação/Osesp]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-kim.jpg?itok=mQtQM-xk)
![A compositora Eunice Katunda [Reprodução] A compositora Eunice Katunda [Reprodução]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-katunda_3.jpg?itok=qqBsR7EV)
![Sonia Rubinsky, Roberto Minczuk e a Osesp durante concerto na Sala São Paulo [Divulgação] Sonia Rubinsky, Roberto Minczuk e a Osesp durante concerto na Sala São Paulo [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-osesp-rubinsky.jpg?itok=DWR1JoHe)

![O compositor Pierre Boulez [Divulgação/Deutsche Grammophon] O compositor Pierre Boulez [Divulgação/Deutsche Grammophon]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-boulez-website.jpg?itok=suOWDOJe)
![O pianista Marc-Andre Hamelin durante o concerto com a Osesp na Sala São Paulo [Reprodução/FacebookOsesp] O pianista Marc-Andre Hamelin durante o concerto com a Osesp na Sala São Paulo [Reprodução/FacebookOsesp]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-hamelin_osesp.jpeg?itok=A1ImMI6Y)




