A província de Hainan está na região mais ao sul da China continental, separada, por um pequeno estreito, de um vasto arquipélago. Em uma dessas ilhas, nasceu em 1976 o compositor chinês Huang Ruo. No sul do país, “somos calorosos e barulhentos”, ele brinca, encontrando na sua infância muitos dos elementos que o definem como autor.
Ruo estará este mês em São Paulo para participar, nos dias 10, 11 e 12, de concertos nos quais Marin Alsop e a Osesp vão apresentar duas de suas obras: Shattered steps e A cor amarela, concerto para sheng, instrumento chinês do século XVIII e orquestra.
“No momento em que surgiu o convite para São Paulo, eu pensei que seria interessante mostrar um pouco de quem eu sou”, ele explica, em entrevista ao Site CONCERTO, na qual fala de sua trajetória entre ocidente e oriente e de suas visões sobre música.
![Huang Ruo [Divulgação]](/sites/default/files/inline-images/l-Huang-Ruo-Portrait-large.jpg)
Por que o senhor escolheu essas peças para os concertos em São Paulo?
No momento em que surgiu o convite para São Paulo, eu pensei que seria interessante mostrar um pouco de quem eu sou. O concerto para sheng fala da minha ligação com a música chinesa. E em Shattered steps eu atuo também como cantor. Cantar é algo que vem da minha infância, eu nasci em uma ilha do sul da China, onde somos calorosos e barulhentos [risos]. Não recebi nenhum treinamento como cantor lírico, mas ia muito à ópera com a minha avó. O ambiente familiar era bastante musical. Meu pai é compositor, mas minha mãe, médica, também gosta muito de música e diz que é mais musical do que ele [risos].
Um comentário sobre suas obras é que elas mantêm um forte aspecto teatral.
Eu assisti à ópera chinesa muito antes de ir à ópera ocidental, o que só aconteceria mais tarde, em Xangai. Talvez por isso em minha mente a música sempre esteve associada ao drama. Ela nunca foi o ato de organizar e depois reproduzir notas. Uma obra musical, quando você a cria ou a toca, é algo que te permite dizer quem você é, o que você sente. Esse contexto teatral define minha relação com a música. O ato de tocar é ir além de simplesmente seguir as notas que estão na partitura.
Talvez por isso a ópera tenha uma importância grande em sua carreira.
Eu tinha medo de escrever uma ópera. Na faculdade, eu só conseguia pensar: por que essas pessoas cantam tão alto?! [risos] Eu, na verdade, ainda não estava pronto, minha jornada com o gênero estava apenas começando. Eu também sou professor e digo sempre aos meus alunos: você não pode escapar de quem você é e de onde você vem. Se Cage ou Stockhausen tivessem nascido no Japão, teriam sido compositores diferentes. É algo natural, acredito. De forma que nunca tentei me adaptar ou rejeitar qualquer tradição. Somos formados artisticamente por muitos pequenos DNAs que se combinam, como em um jardim com muitas e diferentes flores. Não se trata de fazer colagens, mas, sim, de integrar todos aqueles aspectos que nos definem, nos explicam.
No caso da ópera, como o senhor lida com a tradição, com o chamado grande repertório? Ela é uma influência a ser absorvida ou negada?
A ópera não é uma arte velha. Se a gente considera, por exemplo, o formato de recitativo e ária, tão fundamental para o gênero, para compositores de diferentes períodos, como o bel canto: na construção do momento da ária, é como se o tempo físico parasse. Esse é um conceito filosófico atual! Se você olha para a ópera cientificamente, digamos, há uma proposta de distensão do tempo que é fascinante. A forma, portanto, segue fazendo sentido. Claro, o que se faz com ela muda, se transforma. Mas em essência estamos falando de uma percepção diferente de tempo e espaço. E isso nunca é velho, nunca será velho. Como na ópera chinesa, em que o simbolismo é muito forte, a imaginação é fundamental – trata-se, na verdade, disso exatamente: de criar um espaço imaginário. Isso é contemporâneo!
“Se você olha para a ópera cientificamente, há uma proposta de distensão do tempo que é fascinante. A forma, portanto, segue fazendo sentido
O senhor já faz parte de uma geração de compositores que cresceu no que se chama de pós-modernismo, sem necessidade de estar ligado a escolas específicas.
Um artista está sempre falando de si próprio. Isso não quer dizer que não se deva estar aberto a toda informação disponível. Eu abraço a cultura pop, o rock, por exemplo. Mas isso vai sempre se transformar em algo com a minha voz. Sermos compositores do pós-modernismo, ou seja, não precisarmos nos filiar a nenhuma escola, com liberdade de não ter que lutar contra nada ou ninguém, talvez reforce essa característica: eu não preciso ser uma cópia de um autor, falarei sempre em primeira pessoa.
No concerto em que suas obras serão apresentadas há ainda peças de Georges Gershwin, um autor que tentou unir a música europeia à cultura americana, assim como Villa-Lobos buscou fazer no Brasil ou Bartók na Hungria, por exemplo. O senhor vê alguma semelhança entre o processo que guiou esses autores e uma música chinesa que hoje busca também dialogar com a música ocidental?
Eu não acho que haja de fato grande diferença entre nós. Na classe de história da música um dos temas centrais é entender como não se deve abrir mão de um compositor porque ele não está no centro musical tradicional. Eles todos lidaram com suas próprias tradições, tiveram a coragem de fazer isso, essa foi a jornada deles. Eles foram aquilo que puderam ser, porque não há como fugir de si mesmo e do contexto em que você se insere. Com meu pai, ouvi tanto música clássica quanto música chinesa. E isso me define de alguma forma. Eu estudei em Xangai dos 12 aos 18 anos. E lembro de um episódio que me explicou muito do que eu era. Estava em uma sala do conservatório estudando. Na sala ao lado, um músico ensaiava um estudo para violino do Paganini. E, pouco depois, na sala do outro lado, o mesmo estudo era praticado por outro músico, mas em um instrumento chinês. Se você me pedir para definir minha voz, direi que não sou a melhor pessoa a fazê-lo. Mas não nego meu passado, meu presente e meu futuro.
Clique aqui e veja mais detalhes no Roteiro do Site CONCERTO
Leia mais
Notícias Trifonov, Quarteto Hagen e Jaroussky são destaques da Cultura Artística em 2020
Crítica ‘Ritos de perpassagem’: uma experiência de escuta, por João Luiz Sampaio
Crítica As mulheres e as formidáveis canções brasileiras, por João Marcos Coelho
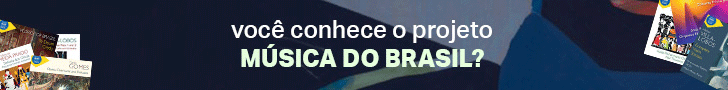

![Detalhe de cartaz da Ópera de Tenerife para a encenação de 'Yerma' [Reprodução] Detalhe de cartaz da Ópera de Tenerife para a encenação de 'Yerma' [Reprodução]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-yerma.jpg?itok=haLNB599)
![O maestro Silvio Viegas e a diretora Carla Camurati no palco do Theatro da Paz, em Belém [Divulgação/Agência Pará] O maestro Silvio Viegas e a diretora Carla Camurati no palco do Theatro da Paz, em Belém [Divulgação/Agência Pará]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-viegas_camurati.jpg?itok=g_-yWtbf)
![A soprano Marília Vargas interpreta árias de Vivaldi e Händel [Divulgação] A soprano Marília Vargas interpreta árias de Vivaldi e Händel [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-marilia_vargas_0.jpg?itok=taP29XV0)

![Lina Mendes, Gustavo Lassen e Eiko Senda em cena de 'Fidelio' [Divulgação/Iris Zanetti] Lina Mendes, Gustavo Lassen e Eiko Senda em cena de 'Fidelio' [Divulgação/Iris Zanetti]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-fidelio_0.jpg?itok=8dNlm7pV)

![O barítono Igor Vieira em cena de 'A viúva alegre' [Divulgação/Daniel Ebendinger] O barítono Igor Vieira em cena de 'A viúva alegre' [Divulgação/Daniel Ebendinger]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-igor_vieira.jpeg?itok=sAtYsup-)
![Os músicos do Third Coast Percussion [Divulgação] Os músicos do Third Coast Percussion [Divulgação]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-third_coast.jpg?itok=qSeO9LL2)
![A compositora Eunice Katunda [Reprodução] A compositora Eunice Katunda [Reprodução]](/sites/default/files/styles/menu_preview/public/w-katunda_3.jpg?itok=qqBsR7EV)




